Acompanhe a série de artigos do advogado socioambiental Mauri Cruz, uma parceria do Brasil de Fato RS e o Instituto de Direitos Humanos - IDhES, para debater alternativas à crise da mobilidade urbana no Brasil.
Não é possível discutir a crise da mobilidade sem refletir sobre sua relação com a dinâmica das nossas cidades. As condições de mobilidade são, em suma, resultado das políticas de uso e ocupação dos espaços urbanos que, para funcionar, exigem a construção de ruas e avenidas, a criação de linhas de transporte coletivo, estacionamentos, áreas de estoque, de carga e descarga e ainda, calçadas e ciclofaixas para proteção de pedestres e ciclistas.
No entanto, a mobilidade também desempenha um papel indutor do uso e ocupação dos espaços urbanos. Ao abrir ou duplicar vias, criar linhas de transporte coletivo ou instalar estacionamentos, a política de mobilidade induz determinado tipo de desenvolvimento. Por isso, pensar na política de mobilidade implica em pensar na concepção de cidade.
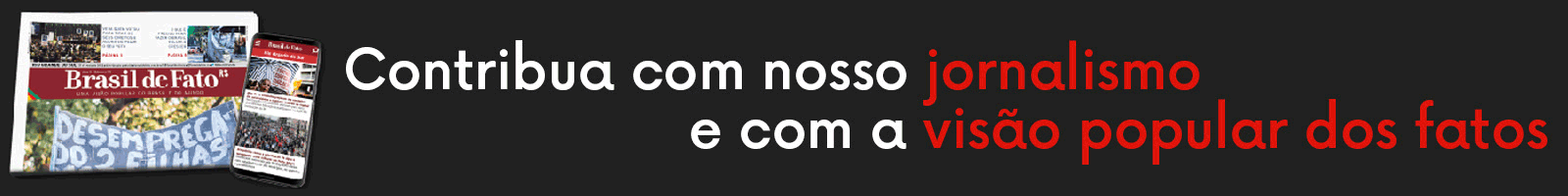
Pensando as cidades
Partimos do pressuposto de que a cidade é o lugar onde as pessoas vivem. É nesse espaço que elas realizam suas principais necessidades humanas, onde, em suma, são ou não felizes. Neste contexto, o papel das cidades deve ser proporcionar condições efetivas para que cada pessoa realize seus projetos de vida, tanto individualmente, como coletiva. Para viabilizar estas condições, é que devem existir políticas públicas, cujo objetivo é atender às necessidades das pessoas, garantindo condições ideais para a reprodução da vida, tais como: acesso ao ar de qualidade, água potável, alimentação saudável, vestuário adequado, proteção e moradia com saneamento, educação, lazer e convivência coletiva, com respeito às características de cada ser humano, em um ambiente seguro e saudável e por meio de mecanismos pacíficos e democráticos de tomada de decisão e resolução de conflitos.
Nesse contexto, o trabalho é meio e condição necessária para proporcionar o atendimento destas necessidades, proporcionando qualidade de vida para todos os seres que vivem nas cidades. Esses conceitos, que à primeira vista parecem óbvios, estão esculpidos na Constituição Brasileira na forma de direitos. Trata-se de direitos fundamentais, condições básicas para a defesa e proteção da vida.
No entanto, as cidades não são assim. Elas reproduzem a lógica do sistema capitalista, onde todas as dimensões da vida são mercantilizadas. Podemos afirmar que o aparente caos das cidades é resultado da concepção que subordina o uso e ocupação urbana para atender aos interesses dos grandes setores econômicos. Controlam nossas cidades as grandes empresas ligadas a cadeia do petróleo, como a indústria automobilística movida a combustíveis fósseis e seus derivados. Também estão incluídos os proprietários de grandes glebas urbanas, que atuam através da especulação imobiliária, da indústria da construção civil e das grandes obras, assim como as cadeias globais de produção de alimentos e de varejo, que se manifestam por meio de hipermercados e shoppings centers.
Mais recentemente, as cidades se tornaram refém das empresas privadas de energia, abastecimento de água e saneamento, setores estratégicos que foram privatizados, além das big techs e seus sistemas de atendimento online, que necessitam da infraestrutura das cidades para fazer a conexão entre trabalhadores explorados de aplicativos e seus consumidores. Não podemos esquecer que, como maestro desta triste sinfonia, impera o capital financeiro e seus tentáculos, através das altas taxas de juros e dos recursos oriundos dos serviços da dívida pública.
Por meio de seu poder econômico e político, esses setores influenciam o funcionamento das cidades, direcionando as decisões sobre o espaço urbano com o objetivo de garantir a acumulação de seu capital e a defesa de seus interesses. Assim, as cidades são construídas a partir de relações sociais desiguais, e um olhar mais atento revelará profundas contradições em como as pessoas se relacionam com elas. Um exemplo dessa lógica, é o investimento de recursos públicos na construção de novas vias, avenidas e viadutos, que privilegiam a circulação de automóveis particulares em detrimento de modais que atendem a um maior número de pessoas, como os transportes coletivos, seletivos e sustentáveis.
As desigualdades decorrentes do modelo econômico capitalista, que concentra riquezas, resultam em duas cidades: uma legal/oficial, a qual apenas alguns privilegiados têm acesso, e outra ilegal/marginal, onde vive a maioria das pessoas. O lado mais perverso é que os custos da produção da cidade legal/oficial são distribuídos entre todos os cidadãos por meio dos impostos e do financiamento dos serviços públicos. No entanto, os benefícios gerados são privatizados em favor de uma minoria. Um exemplo disso é a própria política de mobilidade, onde a malha viária, que é financiada por toda a cidade, é privatizada pelos proprietários de automóveis, que se apropriam da maior parte do espaço urbano, usufruindo da cidade de forma privilegiada em relação a pedestres e ciclistas e usuários do transporte coletivo.
O Poder Público, que deveria agir como mediador em prol dos interesses da maioria da população, historicamente vem sendo capturado pelo poder econômico e utilizado como instrumento de consolidação de políticas que atendam a esses interesses. A privatização dos investimentos públicos só não é maior porque existem percentuais mínimos constitucionais a serem aplicados em educação e saúde. No entanto, mesmo os direitos têm sido disputados pela lógica do mercado, que busca se apropriar de parte desses recursos por meio das terceirizações e privatizações. Como exemplo desse direcionamento, podemos observar o estoque de grandes contingentes de áreas urbanas reservadas para especulação imobiliária, enquanto a população trabalhadora é expulsa da cidade construída e empurrada para bolsões de pobreza e abandono nos morros, mangues e periferias. Essa situação gera demandas por serviços de transporte, educação, saúde e assistência social, colocando essas pessoas em constante risco de desabamentos, soterramentos ou enchentes decorrentes do colapso climático.
Em síntese, a cidade resultante desse modelo de desenvolvimento não cumpre sua função social, gerando a exclusão da maioria das pessoas. Em relação a mobilidade, produz prejuízos que são compartilhados por toda a coletividade, como o aumento do tempo de deslocamento devido a congestionamentos constantes, a precarização dos serviços de transporte coletivo, um elevado número de mortes no trânsito, poluição sonora e ambiental, contaminação das nascentes dos arroios, córregos e rios, e a desorganização da dinâmica local de trabalho e da economia, gerando dependência em relação ao grande capital. Infelizmente, os elementos constitutivos dessa forma de organização do espaço urbano se transformaram em um paradigma imutável, onde a própria cidade marginalizada enxerga a cidade excludente como seu projeto de futuro.
Rompendo os paradigmas
Paradigmas são ideias que orientam as ações, tornando-se referência, modelo ou padrão esperado de comportamento. Diante de problemas insolúveis, o correto é questionar os paradigmas que sustentam a realidade indesejada para poder mudá-la. Isso ocorre porque soluções dentro do mesmo paradigma tendem a não atacar a raiz dos problemas, apenas atenuando ou, pior ainda, reforçando suas causas.
No que diz respeito às cidades, é preciso questionar os paradigmas que levaram à sua configuração atual. É fundamental voltar ao ponto inicial e responder às perguntas: para que existe a cidade? Como ela deve funcionar? Que interesses deve atender? Quem deve controlá-la? Quem detém direitos sobre ela e seus benefícios? Portanto, é necessário criar um novo paradigma capaz de reorientar a organização e o funcionamento das cidades.
Se o objetivo da cidade é o bem-estar das pessoas e não o lucro do capital, precisamos romper com a lógica da supremacia do automóvel em relação aos outros modos de transporte, da reprodução desordenada e sem critérios do capital privado, e da marginalização contínua das pessoas. É essencial combater as formas de reprodução capitalista e de apropriação privada dos benefícios, riquezas, história e cultura da cidade. Se tudo isso é produzido coletivamente, deve ser colocado a serviço da qualidade de vida de todos.
Para reverter esse quadro, é imperativa uma ação consciente das organizações e movimentos sociais e dos governos populares de inverter as prioridades na organização do espaço urbano, influenciando as mudanças nas relações de poder e alterando de maneira substantiva as funções da cidade.
Uma dessas mudanças radicais deve ser repensar a função da mobilidade como um instrumento de inclusão, de democratização do acesso aos benefícios que a cidade produz, de reversão dos fatores que geram o aquecimento global e de combate à fome, à pobreza e à violência. Sobre essa nova concepção de política de mobilidade é que nos dedicaremos no próximo capítulo. Até breve.
* Advogado socioambiental, educador popular, consultor da Usideias, Diretor Executivo do Instituto de Direitos Humanos – IDhES, membro do CAMP – Escola do Bem Viver, fundador e Diretor Presidente da EPTC de Porto Alegre (1997-2000), Diretor Geral do DetranRS (2001-2002) e consultor da União Europeia (2003-2009).
** Este é um artigo de opinião e não necessariamente expressa a linha editorial do Brasil de Fato.
Edição: Katia Marko

