O refeitório Color Esperanza em Villa Caraza está longe de tudo em Buenos Aires. Não da Casa Rosada, nem de La Plata, nem do Obelisco. De tudo. Mas elas estão lá. Elas e as crianças que correm entre as mesas de tábuas compridas e escovadas, tão próximas umas das outras que dá para ouvir os pensamentos da mesa de trás. Embora isso tenha sido antes, quando havia comida suficiente para todos e todos comiam juntos. Elas estão lá, fazendo malabarismos. Elas e Damián Diaz, o companheiro que mexe as panelas que cozinha no fogo a lenha - como se fosse necessário - trinta e seis graus sob os puros raios do sol. E que sorri e aperta a mão honesta quando cumprimenta.
Lá dentro, outras mulheres cozinham outras panelas porque “hoje todo mundo depende de uma panela. Infelizmente temos um teto onde não podemos fornecer essas marmitas. Há muitas pessoas que ficam penduradas, não podemos suprí-las e é muito triste. É triste porque você vê eles vindo com as crianças. Eles vêm depois de passar por outros refeitórios em busca de algo para colocar na boca, para alimentar os filhos. É um desfile de pena e às vezes chegam tarde quando não há mais e não sabemos o que dizer ou o que fazer, porque… é deprimente.” Alejandra Ramos, apesar do exercício diário de lidar com a fome no bairro, não endureceu, porque também “não é uma marmita - uma pessoa, é uma marmita família e cada marmita é uma história diferente, uma história triste que não se pode ignorar. Eu não posso evitar isso.”
Aqui estão as mesas compridas, vazias no espaço muito estreito, por onde correm os filhos e filhas de quem cozinha. Brinquedos quebrados que são usados da melhor maneira possível. Um casal de cachorros que entram para se proteger do sol, uma menina que vem contar que dois meninos estão brigando na esquina. Esta parte da Villa Caraza é um pouco picante, mas “não aqui. Eles nos conhecem e sabem que aqui existem regras, caso contrário seria impossível. Já temos trabalho suficiente”.
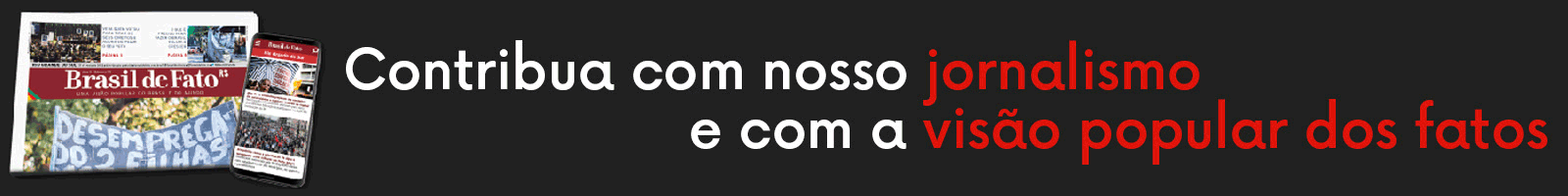
A nova situação é desesperadora. Chegam pessoas que até têm emprego vago, mas sem a panela a família não come e com os refeitórios tendo cada vez menos comida, não se trata mais de ir à panela, mas sim de dar uma volta para ver onde tem alguma coisa.
E como sempre, os mais ferrados acabam contando apenas com eles mesmos: “Antes éramos vários, tínhamos salário e era possível, agora só sobramos cinco e de forma voluntária, somos recicladores, catadores que vêm por solidariedade e o Sistema Municipal de Alimentação que nos ajuda com alguma coisa, com alguma coisa do cardápio diário. Cada pote tem duzentas porções. Aí tem que colocar um saco de cebola, um saco de abóbora e mais alguma coisa, porque não se pode dar um prato de água porque são totalmente necessitados. “Não é possível, temos que dar comida”.
“Acolhemos e abraçamos a todos, mas vêm pessoas de Caraza, do bairro 9 de Julio, de Eva Perón, de San José Obrero e do lado de Lomas de Zamora, do bairro 10 de Enero e de Fiorito também. “Vamos os conhecendo, nos reconhecemos na fome”.
É uma nova via-sacra onde “às vezes chega alguém com os filhos, tarde, quando não resta mais nada. E aí a gente tem que, às vezes, inventar, e quando não dá a gente dá a eles o que é a nossa parte. Às vezes sobra uma batata e uma cebola então eles levam com um pouco de lenha para fazer fogo. O que se vai fazer…”
É cedo. A lenha fumega e os primeiros vapores saem das panelas que estão na rua aos cuidados de Damián. Lá dentro, as outras mulheres se aproximam das panelas e começa o desfile da miséria, perguntando se há comida. Um após o outro. Uns sozinhos, outros com meninas e meninos de mãos dadas, já cansados e com calor e com a bolsa com a marmita. Vê-se que chegam perguntando sem esperança. Há alguns meses eles esperam pelo “não há nada” muito mais do que pelo “dá que te sirvo”. Enquanto estão no refeitório, os meninos e meninas mais velhos cuidam dos mais novos enquanto continuam a cortar legumes e a limpar o que cai no chão. As mães controlam o fogo naquela coreografia de esperança desesperada. Está muito calor, mas ninguém reclama.
Alejandra enxuga o suor da testa com a palma da mão. Olha para fora. Estica o pescoço e continua: “muitos adultos abrem espaço para os outros e de repente só pedem erva e se contentam com isso e subsistem com isso” e nunca a palavra subsistir foi tão precisa.
Desta distância, Alejandra Ramos não consegue ver o horizonte. Tudo está longe de Villa Caraza e o futuro muito mais longe. A mata próxima é um cartão postal da fila de famintos, recicladores, papeleiros ferrados que cozinham para outros ferrados, com fogos de lenha, panelas meio cheias ou meio vazias, gente com problemas e um exército de crianças que vão dormir com um buraco na barriga. “Eu escuto quando as pessoas falam sobre o futuro, o que você vai pensar com a barriga vazia? Tudo é hoje. Tudo está presente.” E o presente é andar mil quarteirões para conseguir um prato de comida que você tem que dividir entre quatro e às vezes mais.
Alejandra olha para a esquina e diz a companheira: “olha, aí vem”. É uma mulher com três filhos entre cinco e dez anos. Você pode ver o peso da fadiga em seu suor. É o presente que chega com o futuro agarrado às saias. O futuro menor estende a mão que tem uma marmita e apenas pergunta desesperadamente: “Sobrou alguma comida?”.
* Publicado originalmente no Página 12.
Edição: Vivian Virissimo

