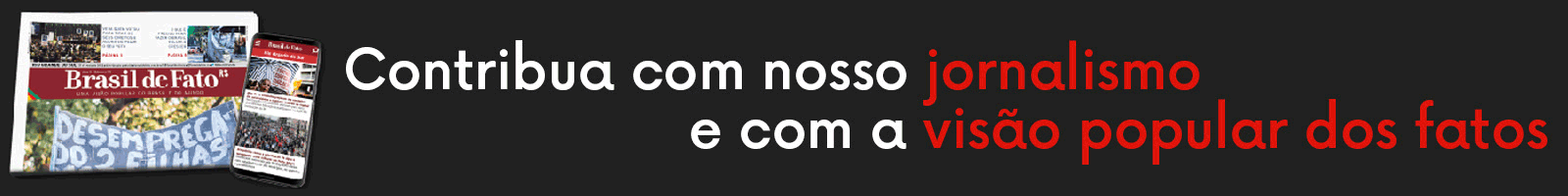Desde 2009, quando do julgamento Petição nº 3388/RR cujo objeto era a anulação da Portaria nº 534/2005, do Ministério da Justiça, que promoveu a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima que o tema marco temporal, com data de 5 de outubro de 1988, entrou na ordem do dia. Anteriormente os setores contrários aos direitos indígenas estavam tentando criar um marco, a proposta era estabelecer o ano de 1934 quando foi promulgada a Constituição Federal que pela primeira vez o tema das terras indígenas foi mencionado. No julgamento da Petição nº 3388/RR o tema não chegou a ser apreciado pelos Ministros, nem debatido foi apenas mencionado no voto do ministro do STF Menezes de Direito. Bastou a menção para os ruralistas fizerem uso da ideia e tomassem como objeto “sagrado”.
Imediatamente Juízes Federais e Desembargadores de Tribunais Federais, em especial do TRF-4 em Porto Alegre (RS), passaram a usar o expediente para anular demarcações de terras. Para esses magistrados a menção do tema no voto de um Ministro se tornara suficiente para considerar como se fosse jurisprudência. Houve um retrocesso quase geral no andamento das demarcações de terras, porque a maioria dos processos administrativos são questionados na esfera judicial, sendo acolhidos como nulos com a alegação de que não havia prova cabal de que os indígenas estavam sobre as terras no dia 5 de outubro de 1988. Os magistrados também consideravam que não havia provas de que os indígenas haviam renitido o esbulho, ou seja, não havia indícios de lutas campais ou judiciais, para reaver as terras, até 5 de outubro de 1988.
:: Aprovado na Câmara e pendente no Senado, marco temporal volta ao STF após dois anos ::
O argumento utilizado para defender a ideia do marco temporal, em 5 de outubro de 1988, é o fato de ser a data da promulgação da atual Constituição Federal, que conferiu aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ocorre que o reconhecimento do direito à terra no marco do colonialismo é muito mais antigo que a atual CF/88, remonta ao menos 1680. Dois elementos passaram a ensejar o argumento do marco temporal: a gêneses do direito às terras teria sido reconhecido aos indígenas apenas nessa data; e, o conceito “tradicionalmente ocupam”, interpretando o “ocupam” no presente, tendo como data o dia da promulgação da CF/88, e não forma da ocupação, ou seja, o “tradicionalmente”. Essa interpretação, que não pode ser confundida com uma tese, já foi amplamente refutada por juristas independentes, demonstrando que não há base legal que sustente tamanho disparate de interpretação, além de destacar o quanto essa ideia é uma grave ameaça aos direitos indígenas consagrados na atual Constituição.
Como não há embasamento jurídico para o argumento do marco temporal, é necessário buscar compreende-lo a partir de outros referenciais. Nossa proposição aqui, é pensar a partir da memória e da historiografia, de como foi registrada e contada a história recente do Brasil, de como os indígenas foram pensados e tratados pelo Estado brasileiro durante o século XX e de como os indígenas se pensam e pensam a história. Como a condição de subalternidade imposta pela sociedade a essas populações, desde a perspectiva do colonialismo, busca-se justificar o etnocídio o qual se converte em genocídio. Teve como agravante a ação do Estado brasileiro que ao longo de 70 anos (1918-1988) do século XX considerou os indígenas tutelados, incapazes perante a lei. Para além da ação tutelar havia a violência imposta por servidores dos órgãos indigenistas (Serviço de Proteção aos Índios – SPI 1910-1967 e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas – Funai, 1967…) e a violência imposta pelo regime militar. Sem compreender esses mecanismos de violência extrema, não há como considerar o debate sobre o marco temporal legítimo ou juridicamente perfeito.
O regime tutelar era uma espécie de guerra, disse o antropólogo Antônio C. de Souza Lima. Pode-se afirmar que a submissão de centenas de povos ao regime tutelar era a própria coisificação das pessoas, retirar delas toda a dignidade humana e transformá-las em fantoches de um administrador – o Estado e, na maioria das vezes, a interpretação que o servidor público, responsável pelo atendimento, fazia das leis. Pelo regime tutelar os indígenas ficavam privados de decidir qualquer tema relacionada a vida pública e privada. Tudo passava pelo crivo olhar vingativo do agente a serviço do Estado. Era o século XX reproduzindo o pensamento do início do período colonial, quando os ibéricos invadiram essas terras e consideraram as populações que aqui viviam não humanas. Aliás, humanidade e animalidade dos indígenas permanecem na mente e nas práticas das elites brasileiras até a data de hoje.
Mais do que “proteção”, SPI esteve a serviço das elites agrária durante toda sua gestão nos 57 anos de existência. As “pacificações” das chamadas “tribos hostis” nada mais era que convencer os indígenas a aceitar fragmentos de seu território e não mais molestar a elite agrária. A cada pacificação eram milhares de hectares de terras que entravam no mercado imobiliário, quando já não estavam repartidas antes do confinamento. Foi assim no interior de SP, em 1910, antes mesmo dos Kaingang serem confinados na reserva, seu território já estava dividido entre senadores, conforme destacou Darcy Ribeiro. O mesmo ocorreu com a Terra Indígena Xokleng Laklãnõ em Santa Catarina, em 1914, quando os indígenas são confinados em cerca de 40 mil hectares, o restante de seu território já era propriedade privada de empresas, que esperavam ansiosas a “pacificação” para efetivar a posse.
Um segundo expediente, bastante usado pelo SPI e continuado pela Funai, foi a remoção forçada. Alguns casos se tornaram mais conhecidos, como a remoção dos Xavantes de Marãiwatsédé para a terra dos Bororo a fim de liberar as terras para o latifúndio, em 1964; o caso dos Guarani de Lope’i, no atual município de Toledo (PR), removidos pelo SPI para a terra dos Kaingang no mesmo estado, em 1954; a remoção dos Kaingang do Toldo Imbu (SC), removidos para a TI Xapecó, na década de 1940. A Funai continuou com essa prática ao promover a remoção forçada do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe de suas terras no sudoeste da Bahia ou a remoção dos Guarani das Terras Indígenas Guarani kuê e Jacutinga (PR) para a terra Kaingang a fim de liberar espaço para os invasores e/ou hidrelétrica de Itaipu, assim como ocorreu com os Kaiowá removidas da Terra Indígena Rancho Jacaré e Guaimbé (MS) e levados à centenas de km de distância. Tanto na gestão Funai como do SPI poderíamos enumerar aqui mais uma centena de casos sem esgotar os fatos. Em todos os casos os indígenas eram os legítimos detentores do direito às terras de acordo com a legislação da época.
Outra prática rotineira do SPI foi a extinção de terras demarcadas. No Paraná, em 1949, o SPI, ao arrepio da Lei, fez um acordo com o governo do estado e passou para a iniciativa privada mais de 50% das terras Kaingang. Em Santa Catarina o acordo do SPI com o governo estadual ocorreu em 1952, dos cerca de 40 mil hectares da terra Xokleng Laklãnõ restaram cerca de 1/3. No Rio Grande do Sul, a prática de sucessivos governos estaduais, com apoio do SPI, extinguiu diversas terras indígenas. Fato que também ocorreu em outros estados.
Importante destacar os genocídios praticados ou acobertados pelo SPI, como dos Xetá no Paraná, povo praticamente extintos na década de 1940 tendo as crianças distribuídas entre servidores do órgão, fazendeiros e outras pessoas “caridosas”; ou dos Cinta Larga no MT, exterminados por fazendeiros, nesse caso o SPI não fiscalizava as regiões de avanço do latifúndio. Os crimes praticados foram tantos que o Procurador Federal Jader de Figueiredo Correia ficou horrorizado com o que encontrou nas Terras Indígenas, declarando que “é espantoso que exista na estrutura administrativa do país repartição que haja descido a tão baixos padrões de decência”.
Na gestão da Funai (a partir de 1967) durante os governos militares as violências se elevaram exponencialmente. O processo de exploração dos bens e da mão de obra indígena, as práticas de tortura e perseguição, transformaram a Fundação num monstro. O “milagre brasileiro” levou para a região amazônica não apenas rodovias e hidrelétrica, mas milhares de agricultores e fazendeiros, muitos deles assentados em territórios indígenas. Os indígenas ficaram encurralados, povos foram exterminados por doenças ou pelas balas do exército brasileiro, como no caso do povo Waimiri-Atroari.
No contexto tutelar, os indígenas não podiam reagir, exceto quando autorizado pelo tutor, porém o tutor era o próprio violador, não havia possibilidades de rebeldia. Algumas iniciativas de insurreição começaram na década de 1970, quando romperam a tutela e passaram a organizar-se em encontros e assembleias, mas muitos foram punidos pela Funai (prisões, tronco, transferências) e outros punidos pelos invasores das terras como no caso do Marçal de Souza, Angelo Kretã dentre outros, assassinados a mando do invasor. A via judicial era impossível, visto que eram tutelados. Inclusive em 1980 quando decidiram criar a União das Nações Indígenas (UNI), a Funai se opôs alegando que tutelados necessitavam de autorização do tutor para criar personalidade jurídica. Alguns líderes até buscaram denunciar os crimes, como Brasilio Priprá, do povo Xokleng Laklãnõ, que foi ao RJ, na sede do SPI, denunciar que o chefe de posto estava vendendo as terras de seu povo, porém no regresso, ao adentrar a terra indígena, em 1952, foi assassinado. Num estudo recente concluímos que o SPI foi responsável direto por reduzir em 64% as terras indígenas no Sul do Brasil, apenas as que estavam já demarcadas, sem considerar aquelas extintas pela omissão.
Como a tutela foi extinta apenas em 1988, com a aprovação do Art. 232 da CF, os indígenas passaram a defender seus direitos e retomar suas terras que haviam sido esbulhadas, mas se não estavam sobre elas nessa data era porque o Estado os impedia de agir e os punia se agissem. Tampouco era possível ingressar na justiça, visto que foi justamente esse artigo (232 da CF/88) que reconheceu que “os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses (…)”.
O marco temporal significa dizer que todos os crimes praticados pelo Estado contra os povos indígenas por ação e omissão, não foram crimes; Significa dizer que todas as invasões nos territórios indígenas foram legais; significa dizer que os indígenas foram merecedores da violência, afinal a sociedade brasileira estava fazendo um “bem” a eles, integrando-os ao mundo “civilizado”, ou seja, práticas etnocidas; significa que os Guarani expulsos pela hidrelétrica de Itaipu durante o regime militar em 1982 perderam o direito à terra, pois não estavam na posse das mesmas 6 anos depois porque as terras estava alagadas; significa dizer que os Kaingang do Toldo Imbu, amarrados pelo SPI e transportados em caminhos para a terra Xapecó devem se conformar com a violência. Seria um estímulo as novas invasões, e dizer a sociedade que o crime compensaria, ou seja, as atuais invasões como a do território Yanomami, a da TI Alto Rio Guamá, caso permaneçam, poderão ser consolidadas em 30 a 40 anos.
São crimes conhecidos ainda por poucos. Espera-se que a Comissão Indígena da Verdade, que tem previsão de ser criada no âmbito do Ministério dos Povos Indígenas, possa elucidar e propor medidas de reparação, mas nenhuma medida substituirá a restituição territorial. Isso não tem vínculo algum com a tal “devolução do Brasil”, como argumentam os que querem confundir a opinião públicas, mas sim aquelas terras invadidas, das quais os indígenas contemporâneos são testemunhas. Se a CF de 1934 tivesse sido respeitada pelo Estado e pela elite agrária brasileira, certamente não teríamos esse debate do marco temporal: “Art. 129. Será RESPEITADA A POSSE de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las” (grifo nosso).
Pelo exposto é possível concluir que o debate sobre o marco temporal não possui amparo legal, é uma posição de “força”, incide sobre a dimensão da memória e da política. Concordamos que a Lei é para todos, mas sua aplicação depende dos interesses, para alguns ela fica solta no quintal impedindo que adversários se aproximem, para outros, fica amarrada no canil para garantir que amigos usufruam do quintal e da casa.
Apelamos então pela justiça, já que essa extrapola nossa conjuntura. Falar em justiça é tratar de reparações e buscar incansavelmente a reconciliação com a história, mas a reconciliação não pode ter por base o esquecimento. Alega-se que o campo necessita segurança jurídica, mas não é segurança jurídica que falta, o que faltou e falta é ação política do Estado para impedir as invasões em terras indígenas e retirar os invasores. Devolver a terra aos indígenas é mais do que ceder uma fração de terra, é reconhecer que a ocupação da terra foi resultado de uma ação violenta. Na memória dos “vencedores” seria ultrajante serem desnudados e a verdade revelada, em especial tendo que aceitar os “índios”.
* Professor de História das Sociedades Indígena na América Latina na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), coordenador do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS).
** Publicado originalmente no site do CIMI.
*** Este é um artigo de opinião. A visão da autora não necessariamente expressa a linha editorial do jornal Brasil de Fato.
Edição: Marcelo Ferreira